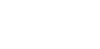Foi há 40 anos, num vulgar dia 25 de primavera, num madrugar sonolento escuro agarrado à noite. Estava frio e quase desconfortável fora dos cobertores da cama. Não se falava em mudança de horas ou horários de verão. O que tinha era que ir à escola cumprir os meus deveres de boa menina e de apanhar o carro operário antes das oito horas da manhã, a metade do preço. Da rua de Alcântara até à rua da Junqueira era um esticão. Não dava para poupar o dinheiro. Eu até gostava do carro elétrico, aparte o cheiro e a sineta de stop que era a tira de cabedal mais subida que o meu tamanho. A minha paragem não era das mais concorridas, porque ficava duas antes de Belém. E a Biblioteca Municipal, ao lado, só abria às nove. As minhas colegas – era ainda uma escola de meninas – chegavam mais tarde. Com muito sacrifício, pedia a alguém por perto para me tocar a sineta. “Pede mais alto, rapariga!”
Mas nesse dia, antes de me por a caminho até ao largo do Calvário para apanhar o último trem, cumpri o ritual: fui à padaria comprar pão fresco para a minha família e escolher uma carcaça para o meu lanche da manhã.
A padaria, junto ao nº 17 da rua de Alcântara onde vivíamos, ficava na esquina a seguir ao beco das Fontainhas. Um pequeno beco escuro com ligação à rua das Fontainhas, e um marco de pedra arredondado na extremidade de cima, que servia para a rapaziada mais atlética saltar ao eixo. Pena era que algumas velhotas, e outros dissimulados, atirassem à noite da sua janela lá para o beco os sacos do lixo, que se desventravam ao cair. Ficava pestilento. Mais um chichi de um aflito da tasca do Caroço…era de passar a correr. E a inclinação ajudava.
Essa madrugada estava, realmente, diferente. Já não me lembro bem se a minha avó já estava na padaria quando eu entrei ou se chegou a seguir. Acho que chegou depois de mim, porque estava muito insistente para me ir embora. Felizmente já tinha o pão e uma língua da sogra, das antigas…as cornucópias também eram boas, mesmo com o creme de manteiga.
Não seria surpresa porque eu às vezes encontrava-a lá, pois ela morava no 12 do beco do Sabugueiro, na parte debaixo da rua da Cruz. A minha avó estava com um semblante inquieto. Tinha passado pelo largo de Alcântara, que ainda tinha uma rotunda (onde nas horas de ponta os carros se entrelaçavam numa teia sem solução) e viu militares armados.
- Rosa, onde é que pensas que vais? Hoje não se pode ir à escola. Vai lá acima dizer à tua mãe que não é seguro andar nas ruas.
Não percebi. Eu não vi nenhum soldado. A única diferença lia-a no rosto das pessoas que estavam na padaria, a aglomerarem por causa da conversava e não se despachavam. Estávamos no Marcelismo, mas as conversas não podiam ser demoradas. “Vamos a despachar” dizia a padeira.
A minha avó fora uma senhora do campo, tisnada, muito voluntariosa, sempre vestida de escuro e lenço na cabeça, não obstante os seus lindos cabelos negros compridos enrolados na nuca, que viera servir para Lisboa e ser o exemplo de ordem familiar para as quatro filhas. Dizia-se defensora dos valores culturais conservadores, como do matrimónio à antiga.
Eu tinha dez anos. Já não estava na escola primária da calçada da Tapada, que era mais perto. Andava no 1ºano do ciclo preparatório, numa secção da então escola comercial Ferreira Borges, já curso unificado. Fui uma das cobaias desta unificação da escolaridade dos cursos industriais e comerciais.
De saco de pano na mão (o leite já o leiteiro o tinha posto à porta), cheguei ao 2º andar onde morávamos e contei o que se tinha passado à minha mãe. Claro que a minha mãe ainda hesitou, até porque não estava autorizada a sair à rua, espreitou à janela e não achou razões para tanto.
Na verdade, eu também queria ir à escola. Sempre tinha gostado da escola. O que ficava a fazer em casa? Tinha os meus irmãos, mas já os bebés lhe davam muito trabalho.
Peguei nos livros, dei uma corrida e ainda apanhei o carro operário. Estava mais vazio. As ruas estavam mais solitárias. As pessoas mais sérias. Um clima de preocupação.
Cheguei lá e a porta ainda estava fechada. Fiquei assustada. Uma grande porta de madeira maciça trabalhada à antiga e pesada, ornada com almofadas e o centro com tiras de ferro torcido e vidro martelado. De um castanho pouco escuro, porque estava queimada do sol.
Lá me abriram a porta e quando entrei indicaram-me uma sala com meia dúzia de meninos, doutras turmas, onde o professor era a própria diretora. Surpreendentemente sorridente e conversadora. De saia abaixo do joelho em xadrez acastanhado em godés e batas pretas de cano alto. Como se usava na altura. Não me lembro do rosto dela, mas era magro e pálido. Apenas sentia que simulava boa disposição e tranquilidade, e volta e meia subia a uma cadeira para espreitar das subidas janelas o exterior. O que ela conseguiria ver? Não nos revelava.
Entre as pequenas e as histórias maiores que contou, e o lanche da manhã pelo meio, chagaram-se as doze horas e mandou-nos sair. Não foi fácil apanhar transporte. A fila na paragem era maior do que o costume. Mas o dia, sentia-o agora, já tinha clareado há umas horas e o céu estava limpo, apesar de uma leve friagem. Há 40 anos eu não era friorenta e andava sempre em camiseiro de inverno, em especial uma camisa que eu própria tinha cortado e costurado com ajuda da minha mãe. O frio era psicológico, pensava.
Ao chegar a casa, deparei-me com o cenário habitual: os degraus primeiros de pedra do meu prédio convertidos em bancadas de fumo para os operários da fábrica de parafusos e de sabão da Cuf, em descanso no horário de almoço.
“Posso passar, s.f.f.?”
“Ó menina, para onde você quiser.” E todas aquelas pessoas, de fato de macaco azul, a levantarem-se para eu passar. Sempre cabisbaixa e encolhida. Mas nesse dia fugiu-me o canto do olho para a varina, nos degraus do prédio ao lado, a vender o Diário Popular do dia com umas fotos de uns tanques em plena rua. E cravos em punho.
O meu pai estava em casa. O que se teria passado? E falavam, com preocupação e entusiasmo. Falei-lhes da manchete do jornal que vira e eles olharam-me, com admiração sorridente.
O pior para mim foram os programas de televisão que mudaram. As músicas na rádio já não eram as mesmas. As séries polacas, felizmente, ganhavam ascendente entre os mais novos. A Gabriela, Cravo e Canela. As paredes das ruas todas revestidas com palavras de ordem e cartazes de luta. As pessoas ficaram mais livres, mais soltas, mas mais indisciplinadas e protestavam facilmente.
Ao outro dia, ao chegar da escola, naquele percurso do largo do Calvário até à minha porta, mais Diários Populares, agora com a foto do general Spínola. O novo presidente.
O meu pai, o mais revolucionário: já não era sem tempo!
Levei tempo a habituar-me àquele entusiasmo ruidoso. As músicas românticas deram lugar às músicas de intervenção. Percebi então que na colónia de férias onde antes tinha estado dois anos, em Janas-Sintra, os jovens monitores já nos entretinham à socapa com essas mensagens de luta, a ouvir Zeca Afonso, José Mário Branco, Pedro Barroso e outros.
«Uma gaivota voava, voava, asas de vento coração de mar
Como ela somos livres, somos livres de voar…»
Começaram a aparecem outros produtos, outros livros, outras ideias… A cadeia dos croissants com recheios variados. De chocolate e doce de ovos, acabados de fazer. O Celeiro com livros sobre medicinas alternativas e comida vegetariana. As igrejas aumentaram e tinham outros nomes em salas de prédios comuns.
As escolas cresceram. Os professores deixaram de usar todos batas, de ter estrado e ponteiro. Já não eram só edifícios, mas blocos pré-fabricados. Os alunos falavam mais nas aulas. Os professores fumavam dentro das salas de aula. Na faculdade de letras, entravamos a comer e a qualquer hora. Íamos a comícios. Contra a energia nuclear, por exemplo. A nossa roupa era mais freak. Tás a ver, meu? Topas? Mais poesia, mais palavrões, mais merdas, mais música, mais saídas à noite, mais ideias de café… A malta de África com mais cores que nós. O laranja e o verde numa única toilete, em grande estilo.
Era outra onda.
O fado abriu portas e vadiou mais. Os beijos a tempo inteiro e o tratamento por tu, como ainda hoje na fadestice. Fado em tudo e tudo com o fado.
O espírito novo. Não um maio de 68, mas um abril de 74. O auge da juventude. Respirada a cem por cento. Os festivais de música e a Festa do Avante devolvem um pouco da saudade desse tempo.
«Era aquela…»
INFORMAÇÃO ADICIONAL
-
Autor - Relator: Rosa Maria Duarte; Filipe Silva
Testemunha - Contador: Rosa Maria Duarte
Ocupação à época: Estudante -
Região: Portugal
Locais: Lisboa, AlcântaraData do início da história: 25 de Abril de 1974
Data do fim da história: 25 de Abril de 1974
DIREITOS E DIVULGAÇÃO -
Entidade detentora de direitos: Instituto de Historia Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova Lisboa – Portugal
Tipo de direitos: Todos os direitos reservados